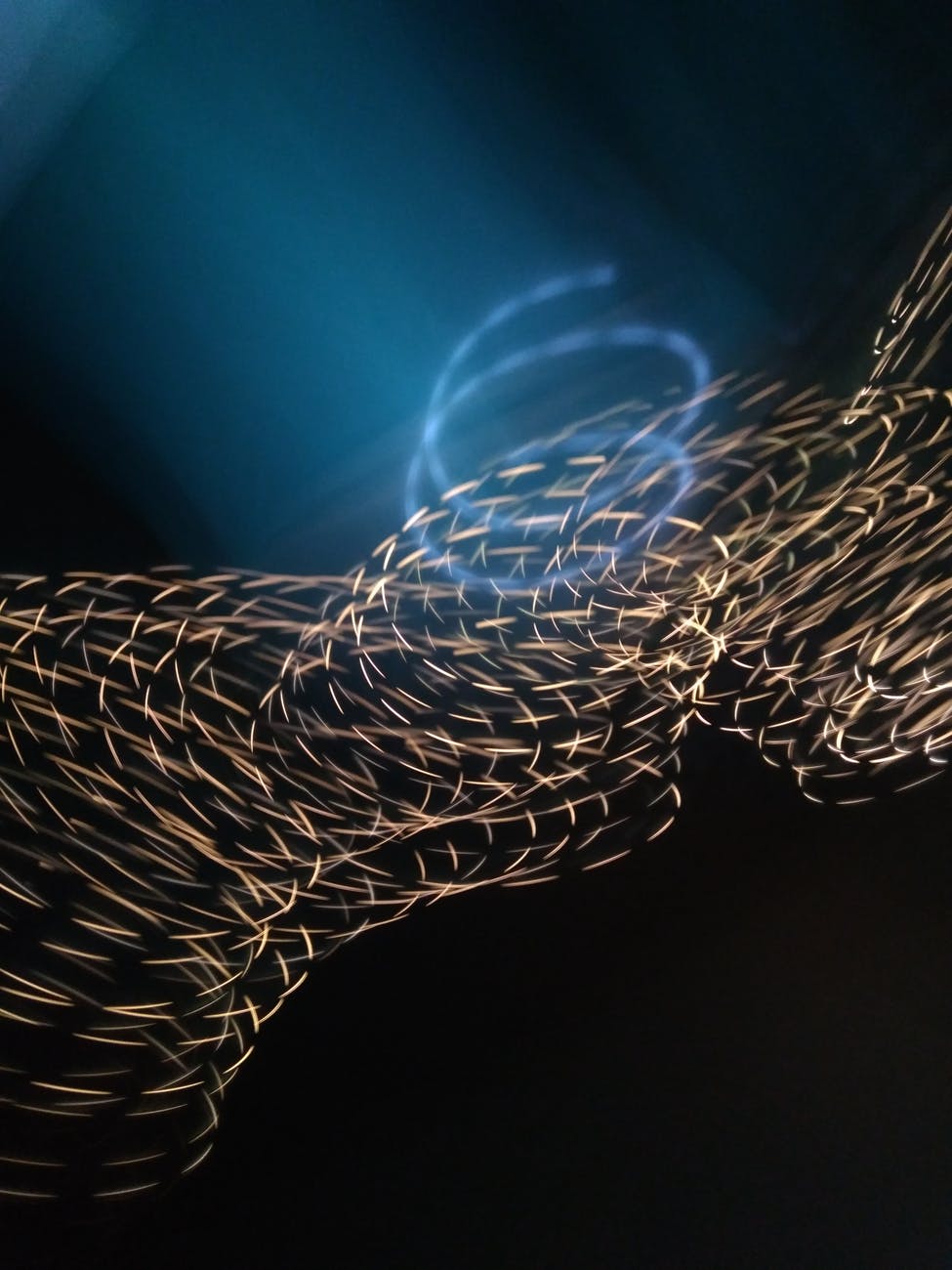Marta Morais da Costa
De saia pregueada azul-marinho, blusa branca imaculada e engomada, meias brancas e sapatos pretos cuidadosamente engraxados, marchei por alguns anos, cercada de amigas e fanfarras, celebrando a Independência do Brasil. Menina ainda, achava aquilo tudo um evento digno de todos os louvores. Vibrava com o Hino Nacional Brasileiro, mesmo sem entender sua letra. Meus cadernos Avante acresciam o orgulho de ver tremular a bandeira brasileira no alto do mastro. Era um tempo de ordens e de inflamados sentimentos patrióticos, ilustrado pelo quadro de Pedro Américo, tido como registro fotográfico de uma situação política e de gestos patrióticos. E hoje jogado na prateleira da pós-verdade e, mais triste, em foto paródica.

Ah! foi bom ter a vida estendida até poder ler 1822, de Laurentino Gomes, e largar de ser ingênua e boba ao acreditar em historinhas que não assumem seu invólucro imaginativo e deturpador!
Será a tal sabedoria dos anciãos, esta de ver cair por terra um a um todos os castelos de ideias e aprendizagens da infância? Será sabedoria esta árida consciência de que o que se vê, ouve, fala e lê é apenas a consciência de que o sentido poderia ser outro? De que a verdade é uma versão? De que o que acontece é incompleto se for colocado em palavras? De que até a fotografia hoje é montagem e perspectiva, não mais registro? Que o real realmente é uma ilusão de realidade?
E, por mais que a repitamos, a palavra real é mais porosa e lacunar do que aquilo que ela pretende traduzir.
Em contraponto aos briosos e ilusórios desfiles da infância, a alma se enternecia e acalentava com os versos de “Pátria minha”, de Vinícius de Moraes. Eu que, à época, mal saíra de Curitiba para algumas paragens interioranas, me sentia exilada qual o poeta, e desejosa de uma pátria tão terna e pequena que caberia no meu entendimento juvenil. A nova “canção do exílio” do poeta-diplomata foi escrita após 1946, quando Vinícius assumiu o posto consular em Los Angeles. “Pátria minha” ganhou ares de fidalguia poética ao ser publicado em 1949 na prensa artesanal de outro poeta ímpar, João Cabral de Melo Neto, em Barcelona. Mais do que as cartas levadas por José Bonifácio a D. Pedro, a edição de um poema marcadamente saudoso anunciava uma pátria que não existia e nem viria a existir, mas que continha paradoxalmente o sentimento de maternidade, de seio úbere ao qual, quando em estado de saudade, sempre buscamos volver. Os versos do poeta longínquo diziam no lá a imagem que ele criara em si da pátria, esse cá distante.
“A minha pátria é como se não fosse, é íntima
Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo
É minha pátria. Por isso, no exílio
Assistindo dormir meu filho
Choro de saudades de minha pátria.”
Neste desesperador ano de 2021, senti falta de minha pátria, mais do que de meu uniforme escolar, de minha marcha desajeitada ao som da fanfarra escolar. Saia, blusa e sapatos tornaram-se farrapos tal como o entusiasmado coro a saudar o virudum.
Reencontrei Vinícius na outra face de seu poema: a que substitui a dor da saudade pela dor do que é seu avesso.
“Pátria minha… A minha pátria não é florão, nem ostenta
Lábaro não; a minha pátria é desolação
De caminhos, a minha pátria é terra sedenta
E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular
Que bebe nuvem, come terra
E urina mar.”
A dor da terra destroçada. Do amor que não é mais. Da vergonha em lugar do orgulho. Do rio em chamas.