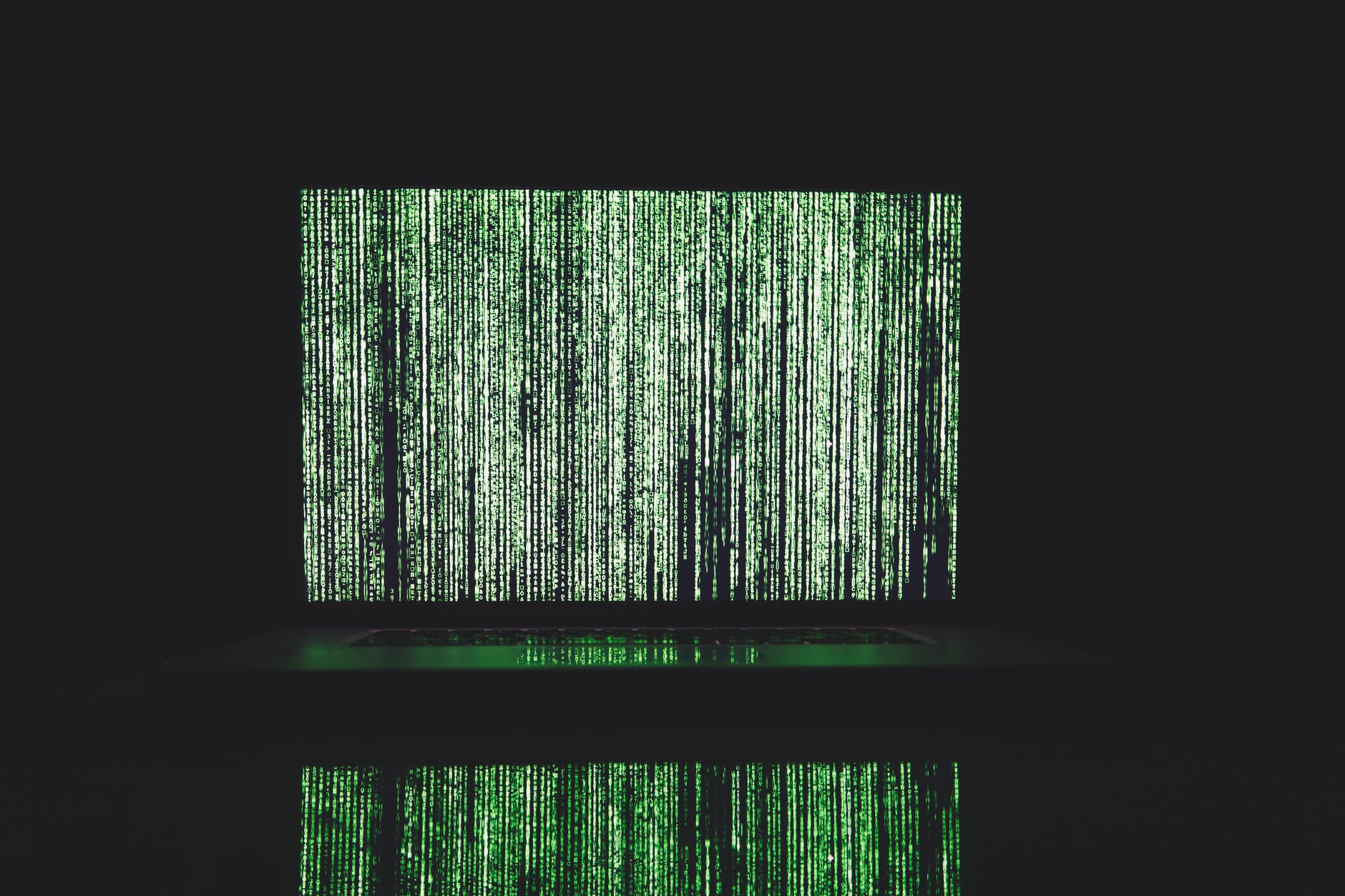(Live no I Circuito de Literatura e Artes da Pastoral Univeritária Anchieta da PUC-Rio, em 27 de outubro de 2020)
Marta Morais da Costa
“Sem a beleza, o amor ou o perigo, seria quase fácil viver”.
(Albert Camus)
Saúdo a todos e agradeço o convite de Maurício Fernandes, que chegou em uma noite de ares rarefeitos por causa da seca curitibana e trouxe a energia boa da leitura e da literatura. Agradeço também à Pastoral Universitária Anchieta pela oportunidade de conversar com seus participantes e convidados.
Em minha idade, estar fazendo uma live tem algo de paradoxal: nos bastidores fica a luta travada com a tecnologia (e como trava), esta indesejada da velha geração. Fica igualmente a encenação de um estar à vontade conversando com a câmera como se estivesse no olho a olho com as pessoas. Nós nos fazemos falta: eu cá sem vocês e vocês aí me vendo em uma tela limitadora, em fala intermediada pela transmissão à distância. Confesso que ficarei feliz se a imagem não congelar, se o som for audível, se o power point não falhar, se a voz não quebrar no meio das frases… assim, tipo pesadelo de professor.
Se o convite foi um presente, a sugestão do professor Maurício para o tema deste nosso encontro foi maior ainda. “Ler é perigoso!” com um ponto de exclamação que é ao mesmo tempo um alerta e uma descoberta. Confesso que tenho uma queda pelos abismos, pelos precipícios, pelos riscos do desconhecido. Alguém falou perigoso? Deixa ver: para quem fica escrevendo e falando que ler é uma atividade prazerosa, que contribui para a formação de um espírito crítico, que transforma o leitor, que favorece a imaginação e mais isso e mais aquilo e este outro, como assim, perigoso? E lá fui eu baixar livros da estante, consultar o falível Google, ler os livros quase esquecidos, comprar mais uma dezena deles, interrogar e interrogar-me. Aos poucos quem estava a perigo era eu. Insônia, inquietude, insegurança, interrogações. Mas aos poucos o abismo foi lentamente ficando menos atemorizador, sem ter perdido a atração dos perigosos abismos.
Os papeis, livros, anotações, memórias e leitura leitura leitura foram se organizando devagar, devagarinho. E nasceu uma proposta de fala que foi ganhando corpo e alguma organicidade. E aqui chegou. A primeira modificação foi na abertura do título: a proposta do professor Maurício foi singular, mas a resposta será plural. Não cruzamentos, apenas seguindo a forma de cruz, mas encruzilhadas, que além de lugar de cruzamento pode assegurar o significado metafórico de “Momento ou situação em que se apresentam várias possibilidades para se chegar a uma decisão”. Serão, pois, encruzilhadas, implicando escolhas: a continuidade ou a ruptura de um novo caminho.
Começo pela origem da palavra.
PERIGO! do verbo latino periri: periculum (significa tentativa, prova, risco, exame). O ato de ler enquanto uma atividade de risco, o leitor enquanto um aventureiro que se arrisca. Fazendo tentativas de compreensão, interpretação e apropriação. Ler enquanto uma operação, um agir, não enquanto uma submissão. O texto encarado como um desafio, uma desacomodação. O leitor inicia sua trajetória no texto entendendo que precisa arriscar, nada lhe será dado pronto, fechado, definido. Ele precisa atuar como periclitor, ou seja, precisa arriscar-se, por-se em perigo. Não se trata de um perigo físico, nem mental: a própria ação de ler é arriscada. Em cada texto submetemos nossa aprendizagem de leitura ao perigo de nos confrontarmos com o incomum, com o não experimentado, com outra e diferente forma de atuação leitora. Quando eu me refiro a texto, incluam, por favor, textos, em diferentes linguagens (jornais impressos ou digitais, publicidade, documentários, livros didáticos, jingles, fotos, filmes etc) .
E a leitura da literatura? Bom, desde que o texto seja efetivamente arte, isto é, que contenha a técnica literária e a intenção artística, nós, leitores, estaremos sempre em risco durante nossa atividade. Banksy, um artista plástico contemporâneo e desafiador, afirma que “a arte deve confortar o perturbado e perturbar o confortável”. Enquanto arte, será sempre contramão.
Volto à etimologia para trazer dois termos pertencentes ao mesmo campo semântico de “periculum”. São as palavras peritus = perito, que significa o “que sabe por experiência, o instruído”; e imperitia = ignorância. São os que passaram pela experiência textual e, no caso da arte, enfrentaram os perigos mais numerosos, perturbadores, desafiadores e desconfortáveis. E amadureceram na experiência. Ou ignoraram os textos que lhe passaram pelo caminho.
Ler entendido como um ato de ruptura, como quem chega de mansinho e confortável e… plict, plact , zum! o que foi lido muda, desvia, transtorna, perturba o leitor.É o momento de estar sobre um fio que atravessa o abismo. É chegar a uma encruzilhada em que a estrada desconhecida é a única saída. A encruzilhada abre caminhos, mas a decisão de tomar um ou outro é do leitor. E nesta escolha ele pode encontrar a pedra de Drummond, a toca do coelho de Alice ou a planície da literatura de massa.
Retirar um volume da estante pode ser um passaporte para lugar nenhum, mas pode ser o visto de entrada em um país estranho, diferente, revelador. E aí ler é perigoso porque é arriscado, porque sai do traçado, porque coloca à prova, porque examina. É a própria aventura do leitor que arrisca sentidos, que questiona, que “se coloca à distância para melhor ver”, como ensina Eliana Yunes. Por isso, perito é o que sabe por experiência, porque se arriscou, porque experimentou.
Pois é, vinha eu, criança ainda, e topei com o perigoso Monteiro Lobato (hoje mais perigoso ainda porque acusado de não ser o autor da história de hoje por ter sido o autor da história de ontem). Pior ainda, por ter criado uma perigosa boneca falante e asneirante que botou abaixo alguns ditames da velha educação e da velha República, construindo uma biografia ficcional para lá de desafiadora. Eu vinha de contos, fábulas e poemas, em modelo uniforme de colégio de freiras: blusa branca, saia anil. Neles, tudo dava certo no final: as crianças aprendiam a ser adultas antes do tempo, por contingência e por obediência.
Emília me jogou uma capa de chita, tirou meus sapatos de verniz e encheu minha cabeça de porquês! Mais perigosa ficou porque o livro que me chegou às mãos (tipo “Felicidade Clandestina”) não veio pelos caminhos da escola. Um tio bem intencionado pretendeu me presentear com um volume de reforço às aulas do primário e colocou em minhas mãos um exemplar de “Emília no país da gramática e aritmética da Emília”! Um volume, duas histórias! Mas o tiro saiu pela culatra em bom ditado antigo… e perigoso. Em lugar de aprender as classes gramaticais, o fascínio veio pelas ilustrações em que palavras viravam corpos e vice-versa, e uma voz irônica botava abaixo barbarismos e solecismos, questionava classificações e mostrava uma dança de palavras que escapavam pelas frestas da gramática e se perdiam em outros mundos. Foi paixão daquelas de preocupar pais vigilantes.
Cada um de nós, leitores, carrega seu primeiro amor (“que foi como uma flor que desabrochou”). O tal “Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor” que o Chico Buarque cantou em “Flor da idade”. Também carrego o meu.
Eu poderia dizer uma mentira deslavada: havia nascido ali com Emília o abismo em que me precipitaria para o resto de meus dias. Que nada! Depois do furacão-abismo Lobato, voltei ao conforto de leituras escolares padronizadas e livros sobre aventuras em países exóticos e manuais de amores eternos, com mulheres perfeitas e cavalheiros arrogantes e mais tarde apaixonados!
O psicanalista Bruno Bettelheim, que faleceu aos 82 anos, em entrevista afirmava que, de tudo o que leu ao longo da vida, avaliava ter encontrado leituras significativas e transformadoras em apenas 4 obras. Levo a vantagem de, um pouco distante dos 82 e espero distante também da hora fatal, já ter encontrado um número maior de paixões literárias e desviantes. Talvez eu seja mais volúvel. Ou tenha uma formação mais rasteira e por isso sujeita a sacudidas mais frequentes, a mudanças de caminho mais constantes.
Nesta já longa caminhada acompanhada de livros, magistério e muita leitura algumas dúvidas consegui esclarecer para mim mesma. Mas à medida que solucionava algumas, pululavam a minha volta dezenas de outras. Vou escolher algumas só para ilustrar algumas encruzilhadas que deram em caminhos inusitados e em muitas pedras.

Começo por uma paixão de maturidade: Manoel de Barros
VII
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá
onde a criança diz: Eu escuto a cor dos
passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não
funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um
verbo, ele delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz
de fazer nascimentos –
o verbo tem que pegar delírio.
(Manoel de Barros. O Livro das Ignorãças. 1993.p.17)
Os delírios que Lobato criou deixei se espalharem em outros livros e outros fazeres ao longo da vida.
Tive uma formação profissional na Universidade muito desigual, péssima em áreas essenciais para meu magistério posterior. Um dos livros que me colocou no caminho possível da grande encruzilhada pedagógica foi “Summerhill, liberdade sem medo”, de Alexander Sutherland Neill, que chegou ao Brasil no início da década de 1960 e que conheci alguns anos depois. Perigosíssimo. Falar em liberdade sem medo em tempos de ditadura era quase como ter escondido em casa um volume de “O Capital”, de Karl Marx. No livro, é narrada a experiência inovadora com educação na Inglaterra apoiada em um tipo de gestão democrática com flexibilização curricular, em que as aulas são opcionais e os alunos participam das decisões sobre estudos e gestão. Como resultado da leitura que me fascinou, comoveu e entusiasmou, não criei uma Summerhill curitibana. Criei, sim, uma utopia interior que me arrastou por planícies e abismos ao longo da carreira. E que reencontrei e vivenciei na literatura. Liberdade sem medo tem tudo a ver com literatura de qualidade, com leitura qualificada. Juntei as duas e saí lutando.
Alguns anos depois uma encruzilhada de Veredas Mortas, habitada pelo Cujo, o Ão, o Cramulhão, o Barzabu, o Satanazim, o Dianho de Guimarães Rosa colocou no precipício mais profundo e chamuscável a literatura que eu havia lido até o momento. Grande Sertão: Veredas é até hoje a paixão e a encruzilhada mais definitiva de minha leitura e de minha ligação umbilical com a língua. foi realmente “a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimento”. Liberdade sem medo de ler, de escrever, de pensar, de sentir, de olhar para o mundo. Parodiando o “Ver com olhos livres” do Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade, pude viver um ler com olhos livres. E estávamos em plena ditadura…
Outros terremotos, outros verbos delirantes viriam e continuam a chegar. Há uma formação de leitores que atinge certo grau de autonomia ao final da escolarização, mas há outra formação que realizamos, muitas vezes individualmente, ao longo de toda a vida. Isto significa que, ao buscar insaciavelmente o encontro com o livro perfeito, nos arriscamos, caminhamos à beira do precipício – talvez com maior cansaço e dificuldade motora por causa da idade, mas permanecemos abertos ao erro e às descobertas.
Um teórico da leitura, de base filosófica e histórica, Hans-Robert Jauss, lançou em sua teoria o termo “horizonte de expectativas” de que gosto muito. “Todo leitor se aproxima de um texto com suas próprias ideias sobre o que espera encontrar nele; estas ideias dependem do marco social e cultural em que se encontre o leitor”, assim se define esse horizonte. Eu acrescentaria que também atua como baliza nesse processo o histórico de suas leituras, o modo como lê e os objetivos que projeta para aquilo que lê. Trata-se de reconhecer os limites de percepção e visão ditados pelo histórico de leituras de um leitor e por seus conhecimentos prévios a respeito da língua, dos modos de produção de sentidos e de cosmovisões, todos colocados em um texto determinado.
Gosto dessa denominação “horizonte de expectativas” porque horizonte é uma metáfora visual muito rica, vivenciável e mutável. Quem pouco lê, tem um horizonte de expectativas em relação à leitura que é estreito, finito, restrito. Este horizonte se ampliará à medida que leituras diversificadas e múltiplas forem acontecendo. Será ampliado na medida em que o leitor, ultrapassando perigos, se torne mais perito na ação de ler. Contribuem para essa ampliação todos os textos da cultura que fazem parte de sua formação, não importa o suporte em que estejam.
Outra não é a posição do escritor-cartunista-gênio Quino, o criador da Mafalda, quando a faz afirmar que “Viver sem ler é perigoso, porque te obriga a crer no que dizem.”. Sujeita-se o leitor, voluntariamente ou não, a assumir o “horizonte de leitura” estabelecido por outrem.
Está posto um problema ontológico e metafísico neste momento: afinal qual ação é perigosa? Ler? Ou não ler? “’Ora, direis ouvir estrelas”: é claro que tudo depende da perspectiva e valores. Depende de ver o horizonte?
Cócegas mentais me fazem pensar pelo avesso: não seria mais tranquilo, e com grande economia de tempo e expansão dos prazeres do ócio, deixar a indolência tomar conta das pessoas e limitá-las a ler apenas o básico, isto é, aquelas formas textuais necessárias à sobrevivência cotidiana básica, primária? Ou então, convencê-las que ler é difícil, trabalhoso, que é melhor substituir os livros por outras atividades ou ler apenas livros de que se goste e que sejam simples em sua linguagem e rasos no tratamento dos assuntos? Textos que sigam o mesmo modelito narrativo ou poético, cristalizado? Ou então que proporcionem exclusivamente entretenimento?

Não quero que pensem que prefiro um atalho de pedras, sem asfalto nem sinalização, a uma ampla estrada pavimentada e em, digamos, dez vias. Também tenho minhas paixonites volúveis no mundo atraente dos best-sellers. Só não fico estacionada em uma das dez pistas, acreditando que assim chegarei a qualquer lugar paradisíaco. Percebo que nem todas as encruzilhadas me oferecem perigos dramáticos e riscos. Elas podem apontar caminhos de Iaras e Botos sedutores que, enleando o leitor em abraços amorosos, o prendem em armadilhas mortais. Ler qualquer coisa, ler por ler, ler para contabilizar, ler para atender à lista dos mais vendidos, pode significar um abismo acolchoado, atapetado, envolvente, atordoante e escravizador.
Não é esta a programação decretada por Beatty, o comandante dos bombeiros incendiários em Farenheit 451? Algo assim como:
“Encha as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as tanto de “fatos” que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente “brilhantes” quanto a informações. Assim elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar. E ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloque em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de tevê e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. (…) Portanto, que venham seus clubes e festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jato, motogiroplanos, seu sexo e heroína, tudo o que tenha a ver com reflexo condicionado. Se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimulem-me com o teremim, com muito barulho. Pensarei que estou reagindo à peça, quando se trata apenas de uma reação tátil à vibração. Mas não me importo. Tudo o que peço é um passatempo sólido.” ( Ray Bradbury, Farenheit 451)
Continua no próximo capítulo.