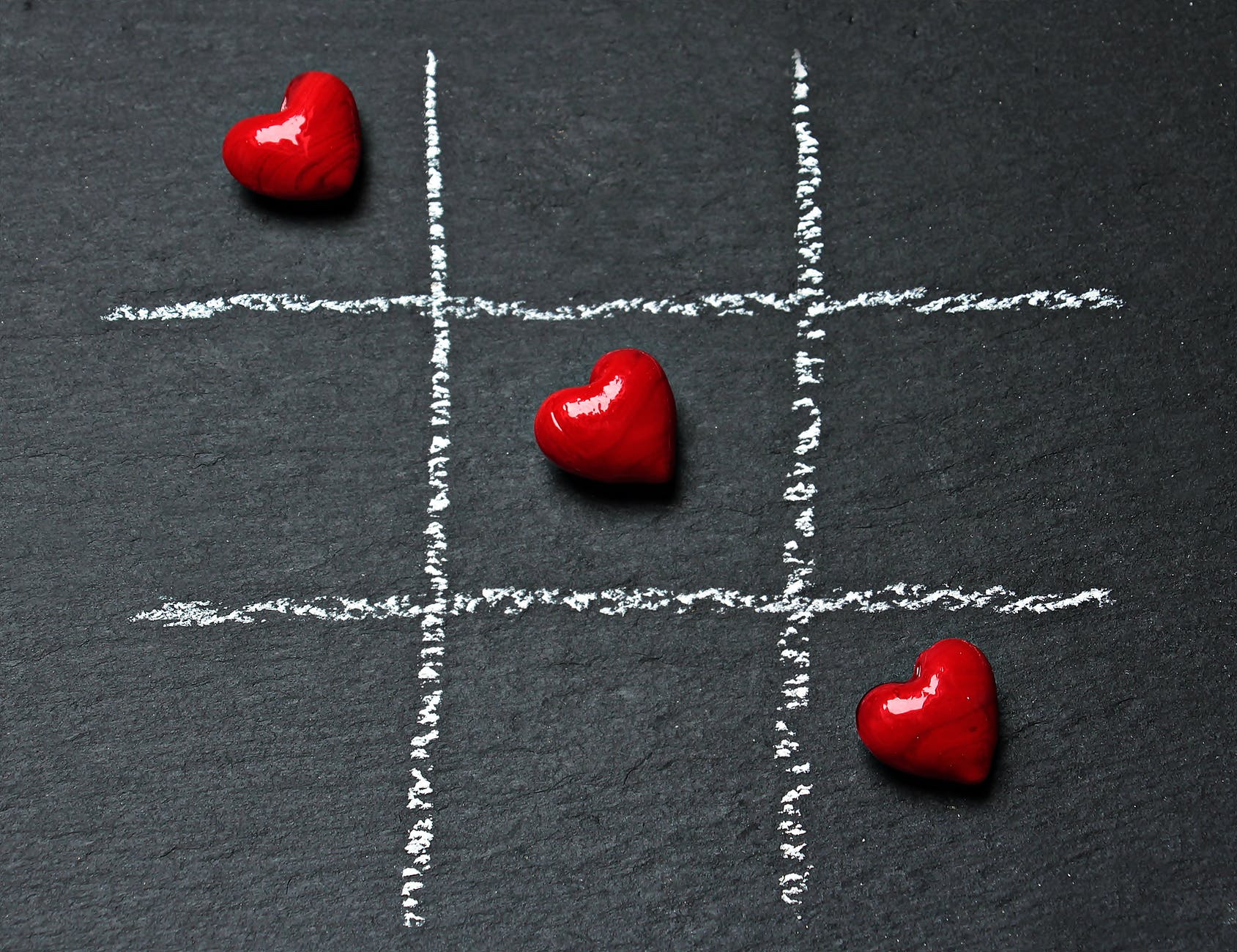Henrique Rodrigues
E o escritor tímido, como fica?
PUBLISHNEWS, HENRIQUE RODRIGUES, 19/05/2022
Em sua coluna, Henrique Rodrigues questiona a lógica de mercado que vem balizando a vida literária contemporânea
Na semana passada participei de uma sequência de encontros literários em diferentes formatos. Aceitamos os convites distraidamente e, quando nos damos conta, estamos acendendo um cigarro no outro, como se dizia antigamente. Sempre detestei cigarros, aliás.
Por conta dos eventos encadeados, acabei fazendo um tipo de mashup (em bom português: mistureba) mental de assuntos relacionados ao universo de livros, vida literária, censura, pautas identitárias, educação e congêneres. Naturalmente, essas temáticas estão relacionadas entre si, mas sabemos que os melhores debates são aqueles que deixam pontas soltas, gostinho de quero mais, pulgas atrás das orelhas e outras expressões populares que apontam o desejo de continuidade.
Algumas questões continuam me perseguindo até agora, enquanto batuco o teclado. Uma delas foi a necessidade de valorização dos professores, categoria tão exaurida moral e financeiramente, e ao mesmo tempo sobre a qual vem recaindo uma demanda administrativa tamanha que dificulta fazer algo fundamental como ler um livro e pensar sobre ele. Se entendemos que a mediação cultural no processo de formação de novos leitores é uma das etapas mais relevantes no tecido cultural, e que os educadores são os grandes agentes nesse processo, não dá para tratar esses profissionais como burocratas ou, para usar o eufemismo corrente, designer de conteúdo educacional.
Outro ponto que ainda me enrosca a cuca e aperta o coração foi ver jovens falando poesia no evento literário realizado na quadra da escola de samba. Ali em Madureira, subúrbio carioca tão rico culturalmente – porém sem uma biblioteca pública –, a garotada cantava e declamava tudo o que precisa ser dito. No fim do poema, repetiam em uníssono o verso que ecoa aqui ainda: “Precisamos morrer todo dia?”. A pergunta foi para todos nós, não se engane.
Em outro evento no qual havia público escolar, o palco para selfies e um tipo de karaokê estava lotado, com jovens amontoados fazendo dancinhas com celulares em punho numa agitação efervescente. Já nos espaços com debates e apresentações de contadores de histórias estavam às moscas ou com meia dúzia de gatos pingados, à exceção daqueles com celebridades televisivas e/ou do próprio universo das redes sociais. O problema não é o primeiro cenário em si, porque a garotada curte a zoeira mesmo, ainda mais quando alunos saem para uma visita, e sim o segundo quadro. Eis que, durante o nosso debate (vazio, como soy), surgiu a questão sobre como os escritores usam as redes sociais e a internet como um todo. Um dos meus colegas de papo reconheceu a quase compulsão de passar o dia conectado, inclusive durante as refeições, ao passo que o outro acreditou ser um caminho sem volta que a turma da literatura use esses recursos profissionalmente. Foi dito que, para um autor se apresentar a uma editora, é preciso evidenciar o uso constante das redes sociais.
O papo me fez pensar algumas coisas na hora e depois. Com toda a dinâmica atual, em que o silêncio da leitura e da escrita foi substituído pela exibição quase fetichista dos escritores e artistas em geral, como ficam aqueles que, a despeito da qualidade do trabalho, não se enquadram nesses esquemas? Nessas condições, um grande escritor tímido e recluso jamais chegaria a ter o seu texto publicado? Dalton Trevisan, Raduan Nassar, J. D. Salinger morreriam na praia? Antes que citem o caso de Elena Ferrante, vale lembrar que a enigmática autora italiana (e nem sabemos se ela é uma autora mesmo ou várias pessoas) tem no segredo da sua identidade um grande recurso de marketing.
Quando a produção literária se torna refém do meio em detrimento da liberdade criativa, me parece que algo está distorcido. Não é raro percebermos autores cujo texto, quando lido, se mostra muito aquém da performance sensualizada, do ativismo político, da saraivada de elogios automáticos, das opiniões instantâneas e outros tantos vícios que as redes sociais trouxeram para o comportamento geral.
Sempre tive a sensação de que a experiência literária nos desloca para um tempo diferente, ou mesmo para a percepção diferente da existência. Do escapismo de um best-seller à leitura vagarosa de um clássico, a ideia é que a literatura nos transporta para outro lugar onde não somos atropelados pela necessidade vertiginosa, superficial e etérea da vida ordinária. Daí ela, a literatura, ser extraordinária.
Se vivemos no tempo em que uma expressão artística está tributária à mesma lógica que cria subfamosos oriundos de reality shows, sistema tão questionado pela fugacidade e pelo esvaziamento, não caberia à própria arte também questionar essa mecânica com seus recursos técnicos e específicos perante as subjetividades?
Faço essas perguntas também para mim, usuário que sou de algumas redes sociais. É preciso reconhecer todas as facilidades que esses recursos nos trouxeram, especialmente a possibilidade de interação com leitores. No entanto, comparando com a situação de 15 anos atrás, quando o grande atrativo dos nossos blogs eram os textos que tentávamos compartilhar, parece que tudo foi fagocitado e transformado em mercadoria moldada ao formato determinado pelo aplicativo do momento.
Não sei, algo me parece estranho. Em meio a esse mundo de aparências e dancinhas, talvez precisemos voltar à procura de leitores, em vez de seguidores e clicadas.
Acesso em 2 de junho de 2022:
https://www.publishnews.com.br/materias/2022/05/19/e-o-escritor-timido-como-fica?fbclid=IwAR1gZiMDrgD_2K26OHboEaD6QokcO0DR16W3zC51xO6BiZVfukk_RZhyW5Q